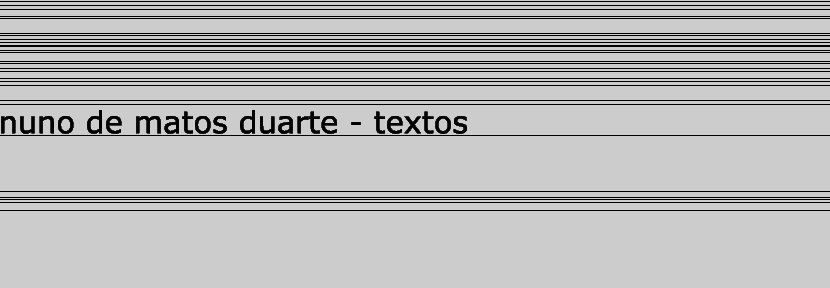Nunca será supérfluo afirmar que os
caminhos da arte são os trilhos do
homem inquieto
1.ª Parte
O espectador da obra de arte improvisada deve ser prudente na identificação de falhas ou erros que, noutro contexto, revelariam uma evidente fragilidade formal. O mesmo se aconselha ao próprio artista improvisador. Os acontecimentos inusitados que contrariam a lógica construtiva que o espectador credita como correcta por se cumprir na sua “expectabilidade”, não devem, nem podem, ser considerados erros. Esse tipo de acontecimentos é antes «acidente» porque a persecução da competência técnica e interpretativa, como garantia da integridade da conformação da ideia de obra, não é adequada à obra de arte improvisada. A obra de arte improvisada só é relevante na medida em que tende para uma improvisação pura (ou a indicia). Da improvisação artística relevante nunca faz parte o erro de interpretação porque este, para ocorrer, teria de se reportar a uma ideia para interpretar. A acção que constitui a improvisação não se faz em função de uma ideia da qual o gesto vem ser representação, mas sim em função do estabelecer de um «clima». Há, repetimos, em vez de erro, acidente no processo artístico de actuar. O acidente não é nem desejável nem indesejável, apenas ocorre e integra a obra, alterando o seu rumo ou, simplesmente, causando algum tumulto numa sequência contínua de acontecimentos. Ao colocarmos a hipótese da existência de improvisação pura, ou ao reunirmos esforços para que exista, nunca o poderemos fazer segundo a óptica actualmente dominadora, tanto na crítica como nos processos de fazer arte, da estrita legalidade conceptual. Este modo de actuar na arte, esta rígida atitude perante a obra, seja como criador, crítico ou espectador, situa-se nos antípodas do modo de ver do fazer improvisado e as suas ferramentas são completamente desadequadas ao carácter da improvisação. Se artistas e público da arte improvisada assim não vêem, assim deveriam ver, porque só desse modo pode a improvisação ser relevante na sua proposta estética. Sendo o contrário da arte conceptual, a improvisação não a tem, de modo algum, presente para se justificar, negando-a. A ser o que é, esta arte será, não por reacção contrária, não pela assunção da forma concreta posteriormente negada como na pesquisa formal dos desconstrutivistas, mas tão-somente porque o indiciar de um modo de ser naturalmente encaminha o ser à via da busca da sua essência; o ser consciente da possibilidade de si, aperfeiçoa-se. Idiossincráticas do improviso são a sua forte humanidade e, sobretudo, a sua emanação caótica do cosmos, não indirectamente através de símbolos, ícones ou metáforas, mas no seu modo directo e concreto de efectivar. No contexto da arte, improvisar é a acção em tempo real da qual directamente brota a obra de arte logo forma ao ser formada. O seu modo de ser implica aceitar que improvisar sobre ideias impostas a priori é entretermo-nos com exercícios de virtuosismo inconsequente; implica entender que a ocorrência da arte improvisando deve provir de uma força vital, torrente de coisas reais no tempo em que ocorrem. Na improvisação relevante nada se aproxima, portanto, do mundo das ideias imutáveis e sem tempo. Aproxima-se sim do caos, da presença das coisas reais, mesmo que incompreensíveis e que, inexoráveis, ocorrem no tempo da sua aparição. Mesmo quando durante a improvisação estão presentes específicos modos de fazer apriorísticos, seja por exemplo no estabelecer do par «tema-variações», seja na comum estruturação arquitectónica, ou de qualquer outra espécie, tanto mais natural e forte se nos revela a obra improvisada quanto se desvia de premissas expectáveis.
O advento da arte conceptual, fenómeno com origem nas artes plásticas, eminentemente visuais, deslocou o âmbito da sua actuação da plasticidade e visualidade para as ideias como jogo linguístico. A primazia foi dada radicalmente à ideia como ente incorpóreo e sem tempo que, de algum modo, era negação do valor material da obra de arte que traduzia essa ideia (embora actualmente nos pareça que a ênfase da obra de arte herdeira da heróica arte conceptual pioneira se deslocou para o valor material que anteriormente negava[1]). A arte conceptual definiu-se, por isso, como lógica verbal que, no preestabelecer da argumentação em defesa intelectual do objecto material resultante, define a lei que rege a sua execução. A obra de arte proposta pela arte conceptual nasce da previsão da leitura das suas lógicas argumentativas internas, lógicas essas que, há que dizê-lo, são muitas vezes um pouco primárias e, outras vezes, rebuscadas. Quase sempre um seu constituinte físico e material procura no seu directo correspondente exterior (incorpóreo) a razão de ser (simbólica ou não) que lhe confere «legalidade». É, neste particular aspecto de formar, um género artístico muito bem comportado que sobrepõe, de certa forma, a pureza da ideia ao indivíduo e ao imediatismo das suas reacções humanas espontâneas, bem como à própria liberdade material da obra de arte.
O modo de ver da arte improvisada, pelo contrário, dá a primazia ao indivíduo, no seu existir mais directo e imponderado, sobrepondo-o como prova viva (animal, psicológica e mesmo mística) à importância da pureza de uma ideia. Um problema prático que, aliás, sempre se coloca ao artista improvisador consciente do seu acto artístico é o da gestão dos acontecimentos que vão gerando «sentido artístico convencional». Os músicos e bailarinos improvisadores, ao falarem da sua experiência criativa, referem que mesmo quando partem «do nada»[2], aos poucos, as coisas vão adquirindo sentido. Este sentido adquirido não é mais do que o «sentido artístico convencional», o sentido possível de reconhecer pela parecença à arte não improvisada, isto é, efeitos estilísticos de repetição, contraste, contraponto, diálogo, variações, estruturação arquitectónica e princípios conceptuais verbalizáveis à maneira da arte conceptual. Aparentemente, as obras de arte geradas pelo método da improvisação pura deveriam negar com prontidão imediata aquele adquirir de sentido. Isso, a maior parte das vezes, não acontece, dado que é comum elogiar-se, pelo contrário, a obra improvisada que parece não o ser.
O improviso define-se, sobretudo, pelo gesto, a acção desenhada num tempo e num espaço, específicos e conclusos. A improvisação é “performativa” e, como tal, empática com a música e com a dança, mas também com uma particular ideia de teatro, cinema e algumas artes plásticas (se bem que nestas com reservas, dada a possibilidade de eliminar registos, seja por remoção simples ou sobreposição, que ficam, desse modo, invisíveis na conformação final da obra). O improviso só é relevante como arte na medida em que o objecto artístico dele resultante revela de dentro, do seu artistismo, a acção ocorrida no tempo real (ainda que intuído) da sua génese, acção essa que só pode consistir na particular forma de compor a matéria pela acção instantânea do artista. É o artista que improvisa e a origem da acção artística pode caracterizar-se como interna embora, como referido atrás, factores externos «acidentais» contribuam para a conformação final da obra. Como tal, é obviamente tolice conceber improvisação pura de arquitectura, escrita ou fotografia, irremediavelmente dependentes que estão da origem externa dos elementos que as compõem e, do ponto de vista ético, dependentes que estão da ponderação do sentido (as primeiras) e da evocação do tempo congelado da realidade (a última). Embora se possa afirmar que o improviso, quando aplicado às artes plásticas, possui um espírito fotográfico e não cinematográfico[3], no caso da fotografia não é sequer possível conceber a ideia de improviso, nem mesmo em supostas obras resultantes do disparo ao acaso do obturador. O material fotossensível registaria como habitualmente apenas a luz disponível que nele incide e daquele acto essencial (e em última instância) nada resultaria que diferisse de disparos feitos com ponderação: a fixação da realidade externa por meio de um dispositivo e de um artista que, a partir de dentro, apenas aflora ao de leve a composição da matéria. Não seria o artista a improvisar e estaríamos apenas perante uma espécie de lotaria. Se improvisar é constituir, sem preparação e ao longo do tempo, a matéria que se mostra durante a acção artística, então, ao gesto único e instantâneo da fotografia fica vedada esta possibilidade porque o fotógrafo, ao disparar, não constitui a sua matéria (apenas a selecciona e regista) determinando nesse específico momento e a um nível mínimo, as relações compósitas que essa matéria estabelece.
O imediatismo do gesto e das decisões sobre a conformação da obra é indissociável da obra de arte improvisada, seja ela pura ou não. Esta instantaneidade coloca o improvisador perante problemas bastante concretos que existem exclusivamente no âmbito do seu método. Um dos mais pertinentes e comuns é o fascínio encantatório da consagração do seu virtuosismo técnico. Esta tendência resulta amiúde no uso do efeito artístico convencional, tal como descrito atrás, garantido pela vasta panóplia de recursos adquiridos e pela perfeição da sua aplicação. Neste caso, aceita e cultiva um «vocabulário» que assenta em estruturas arquitectónicas predefinidas e o estabelecer da obra, sendo feito em tempo real e de improviso, vem segurar a priori a coerência formal. Esta coerência, contudo, contraria a essência da improvisação, na medida em que aposta na obra «aceitável», composta por efeitos expectáveis, em vez de apostar na aventura sem bússola e mapa por territórios desconhecidos. Se através do improviso se pretende chegar a uma obra de arte que em tudo se parece à obra de arte «convencional», ponderada, para quê improvisar a obra? A resposta a esta pergunta todos os artistas improvisadores a sabem e, a saber, é: pelo incomparável prazer de criar de improviso. De facto, a experiência de improvisar proporciona ao artista um tipo de prazer e experiência muito diferentes das proporcionadas pela pesquisa artística convencional, mesmo que, em essência, o improviso resulte numa obra que não pareça improvisada e que nesse caso seja, comparativamente à obra ponderada, quase sempre mais fraca na sua consistência formal. É esse estranho tipo de prazer, que os artistas improvisadores tão bem conhecem, que os leva muitas vezes a abraçar a sedutora ideia de uma arte mística, dado que não conseguem eles próprios explicar as estranhas sinergias que tornaram de uma assentada a obra possível e, por raras vezes e à sua maneira, perfeita. A ânsia de transcendência que invade a psique do artista (e por vezes também a psique dos espectadores) durante a acção, entra em contradição com a realidade material crua, directa, da obra improvisada que, em última instância, é apenas uma associação de matéria que existe e tomou forma. Este acumular de matéria a que chamamos obra de arte não é de modo algum representação do estado psíquico do seu autor ou da sua condição existencial, à semelhança do que o informalismo quis em tempos genuinamente advogar. É, quando muito, um seu substituto simbólico por ser o resultado físico duma específica acção por ele levada a cabo. Se o indivíduo se encontrar representado numa obra improvisada, será sempre devido ao secundário recurso, consciente ou inconsciente, a figuras de estilo de reminiscência romântica e nunca pela implacabilidade e justeza directa do processo de improvisar. Nestas obras podem ainda encontrar-se marcas distintivas dos processos de fazer, mas essas, desde que haja consciência da arte, podem ser encontradas em obras de todas as épocas e de qualquer estilo e método.
2.ª Parte
Tentemos agora delinear os contornos de um método de improvisação pura e antever a sua fisionomia. Para arrumar esta escrita um pouco elíptica é necessário caracterizar, do ângulo da obra de arte improvisada, alguns dos elementos fundamentais do sistema completo de criação artística.
O artista.
Deverá o artista sentir-se totalmente livre ao aventurar-se nas suas pesquisas criativas? Embora caiba, em face de si mesmo, a cada artista responder a esta pergunta, afirmamos o seguinte: esteja menos ou mais consciente dos meandros das tendências em que actua, não deve seguramente sentir-se obrigado a seguir apenas um género, um método, um estilo, mas o ditame das suas inquietações, por díspares que lhe pareçam. Apenas três factores o podem conduzir à estreiteza da visão única: a inabilidade para actuar de outra forma, a implacabilidade de uma ética que o impeça de experimentar e o desproporcionado interesse em factores externos à arte (comerciais, de status inter pares, etc.). O infindável campo de liberdade que a improvisação pura poderia proporcionar ao artista seria um prenúncio da sua libertação da obrigatoriedade de criar uma correspondência lógica entre meio, técnica, símbolo, matéria, cor, ou qualquer outro elemento habitualmente usado para compor. Estas opções não estariam mais condicionadas à obediência a uma «legalidade» imposta à acção artística. Permitir-se-ia, através deste método, as mais inusitadas combinações de elementos, originando «objectos estranhos», não segundo princípios composicionais rígidos, mas antes segundo simples coexistência intuída. De referir mais uma vez que não se pode ignorar o peculiar prazer proporcionado pelo fazer arte improvisando e, como tal, há que ter em conta o elevado grau de satisfação e gozo pessoal do artista, o que desvela um carácter aparentemente frívolo da improvisação, de natureza recreativa, o que não livra o improvisador de constrangimentos e a obra improvisada de fraquezas.
O método.
A improvisação, em geral, pode ser aceite como método criativo levado a cabo através de técnicas adquiridas. Contudo, quando a classificamos de «pura», adjectivamo-la ao ponto de a considerarmos absoluta na sua idiossincrasia, característica que torna vaga a hipótese de poder estabelecer-se como método. Não poderá, sendo pura, a improvisação ser mais improvisada sendo ela mesma até às mais radicais consequências indiciadas pelo seu modo de ser e, deste modo, a mais improvisada improvisação concebível. Note-se que, ao não ser pura, é admissível que a improvisação como método pudesse originar obras que só ao de leve se assemelhariam a obras improvisadas (delas podendo não se discernir o peculiar método que as originou); ao sê-lo, a legibilidade da sua pureza impor-se-ia sem que fossem necessários dispositivos complementares para a evidenciar. Tornar-se-iam obra e método inextricáveis? Antes de sequer colocarmos esta questão deveríamos atender à alta probabilidade de inexistência de método nestas condições. Passamos a explicar. Para ser possível e relevante, a pesquisa artística baseada na possibilidade deste método deveria originar, na medida do absoluto reconhecível, obras diversas na sua conformação (diversas entre si e das demais obras por outros métodos originadas). A sua grande virtude seria a descoberta da livre variedade de formas, embora na prática talvez resultassem de uma não tão livre actuação, dada a constante necessidade da instantânea recusa de clichés para garantir a legibilidade e efectividade da sua pureza. A recusa do cliché representaria, assim, uma regra forçosamente imposta e, como tal, um obstáculo sério à integridade da espontaneidade de tal obra. Há que assinalar, no entanto, que sem técnicas não há método e, sendo pura, a sua aparição como obra seria virgem e nova a cada momento, o que eliminaria de imediato a possibilidade de existência da técnica idealmente adequada à natureza das suas formas emergentes. Mas aqui o raciocínio tem de ser feito no sentido inverso, isto é, as formas emergentes virgens e novas é que resultam de uma técnica anterior a elas. A ideia de técnica implica a existência de uma tradição nos modos de fazer, dado que, por definição, técnica é o conjunto de processos utilizados para obter um certo resultado. Esta acepção pressupõe a prévia identificação de um objectivo, o enunciar de um problema e o desenvolvimento de processos para o solucionar, procedimentos que são aparentemente incompatíveis com uma ideia de improvisação pura, a mais improvisada improvisação concebível, cuja técnica brotaria idealmente e em cada momento da própria génese do improviso. Não é possível à técnica ser técnica nestas condições mas, por outro lado, não parece também que sirva a qualquer género artístico comprazer-se no exercício da maior das incompetências na aplicação dos meios e dos raciocínios que tradicionalmente o definem. Por isso, à improvisação (pura ou não) podem servir as técnicas existentes dentro de uma tradição, caso contrário negar-se-ia o meio, pondo em causa um dos elementos essenciais à existência de arte. Para a improvisação pura talvez se possa advogar com propriedade que essas técnicas, dada a impossibilidade de se renovarem consistentemente a cada instante, deveriam preferencialmente denotar a ansiedade de quem obsessivamente procura o novo. As «velhas» técnicas, usadas «com propriedade» em improvisação pura, indiciariam o devir, definindo um vago método que devolveria em cada momento a ênfase ao gesto através das suas imediatas e radicais consequências, tentando tanto quanto possível eliminar quaisquer semelhanças a resquícios de preconcepção artística. As obras resultantes deste método seriam sempre «obras-acontecimento» num sentido diverso do da performance, porque não teriam necessariamente de ser apreendidas em tempo real. Apreender-se-ia sim a obra que resulta ou resultou de uma concepção em tempo real, obra essa que poderia, inclusivamente, desenvolver-se intervaladamente.
A obra.
As obras mais relevantes do ponto de vista estético são naturalmente aquelas cujo sistema propõe (ou sugere) um original intricado de factores lidos como inextricáveis. Indissociável do peculiar prazer do artista ao criar em tempo real e, de certa forma, usando-o para se veicular, as «obras-acontecimento» puramente improvisadas tornar-se-iam de imediato materialmente participantes do mundo externo ao artista. Inocentes na sua génese espiritual, divergiriam continuamente, recusando ser representação dos mundos cronologicamente estáticos da ideia, mas convergiriam, no entanto, continuamente no acumular de matéria do seu ser obra. Espiritualmente assentes na transitoriedade universal, no eterno fluxo das forças do cosmos, estas obras estariam talvez condenadas a uma indefinida permanência no limbo artístico por elas próprias criado e este seria, a par da sua dimensão eminentemente cronológica, o aspecto marcante da sua fisionomia. Por isso, a um primeiro olhar, dir-se-ia que cairiam sempre na já mais que gasta ideia de abstracção como oposto da figuração. Conclui-se, no entanto, que não seriam de nenhuma destas espécies: seriam objectos reais (e não realísticos) que não evocariam ou representariam mundos a eles exteriores. Limitando-se a ser o que seriam, aproximar-se-iam talvez da arte concreta.
Lisboa / Ponte de Sor, 2008-2009
[1] Este deslocamento para a materialidade manifesta-se tanto no uso de símbolos de integridade conceptual presentes no carácter dos materiais, tal como a pintura fazia e ainda faz com a cor e a textura, como na aceitação do objecto artístico de matriz conceptual tornado ente físico passível de adquirir valor “fetichista” e monetário.
[2] É difícil conceber que se comece efectivamente «do nada» porque, em última instância, parte-se sempre de si próprio e, como tal, de alguma coisa. Quando estes artistas referem que partem «do nada» querem dizer que improvisam sem tema e/ou sem plano de actuação que estruture a acção.
[3] Ver o meu ensaio “Arte e Improvisação – uma questão de identidade”